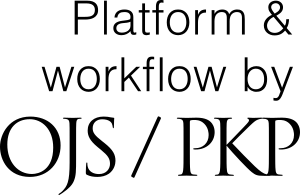RACISMO AMBIENTAL NO BRASIL: LIMITES E POTENCIALIDADES DA RESPONSABILIZAÇÃO JURÍDICA NA TUTELA DAS POPULAÇÕES RACIALIZADAS
Palavras-chave:
Direitos Fundamentais. Racismo ambiental. Lei de Crimes Ambientais. Dano moral coletivo ambiental. Justiça socioambiental.Resumo
A Constituição Federal assegura, em seus artigos 225 e 5º, caput e inciso XXIII, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à igualdade e à função socioambiental da propriedade, cabendo ao poder público garanti-los em benefício de toda a sociedade. Entretanto, a realidade brasileira revela um paradoxo: enquanto esses direitos são universais em sua previsão, sua efetivação permanece profundamente desigual. É nesse hiato que se evidencia o racismo ambiental, fenômeno que faz recair de forma desproporcional os impactos da degradação ambiental sobre populações historicamente marginalizadas, sobretudo a população negra. Nessas comunidades, a ausência de saneamento básico, a maior exposição a riscos ecológicos e a degradação contínua do território traduzem a face mais perversa da injustiça socioambiental. Embora a Lei de Crimes Ambientais preveja sanções penais e administrativas, sua aplicação em contextos racializados revela-se insuficiente. Empresas poluidoras, agentes estatais omissos e até práticas individuais que degradam o meio ambiente em territórios vulneráveis raramente são responsabilizados. Essa falha decorre não apenas da ausência de investigação técnica qualificada, mas também da seletividade estrutural do sistema penal, que escolhe quais territórios merecem tutela e quais podem ser sacrificados. Autarquias como o IBAMA, o ICMBio e órgãos estaduais e municipais, dotados de competência legal para fiscalizar, embargar atividades ilegais e aplicar sanções (arts. 70 a 76 da legislação supracitada), frequentemente se omitem diante de violações em áreas invisibilizadas. Essa inércia reforça um padrão de negligência institucional que perpetua a vulnerabilidade socioambiental. No campo cível, decisões do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp 1.180.078/MG e o REsp 1.269.494/MG, marcaram avanços ao reconhecer o dano moral coletivo ambiental, dispensando a comprovação de sofrimento individual e reafirmando a responsabilidade objetiva ambiental (art. 14, §1º da Lei nº 6.938/81). Contudo, mesmo esse progresso ainda encontra barreiras quando os danos recaem sobre favelas, quilombos, aldeias indígenas ou periferias urbanas, revelando um duplo padrão de aplicação da norma: rigor em casos de interesse econômico central, complacência quando se trata de territórios periféricos. Como lecionam Sueli Carneiro e Robert Bullard, o racismo ambiental ultrapassa a dimensão física da degradação: ele opera também como mecanismo de exclusão política e simbólica, negando a certos corpos e territórios o direito à cidade, à saúde e à dignidade. Enfrentá-lo exige mais do que sanções formais. Implica reposicionar o Direito Ambiental como instrumento de justiça social, adotando uma abordagem antirracista e territorializada, capaz de ouvir as comunidades impactadas e incorporá-las no centro da formulação de políticas públicas.